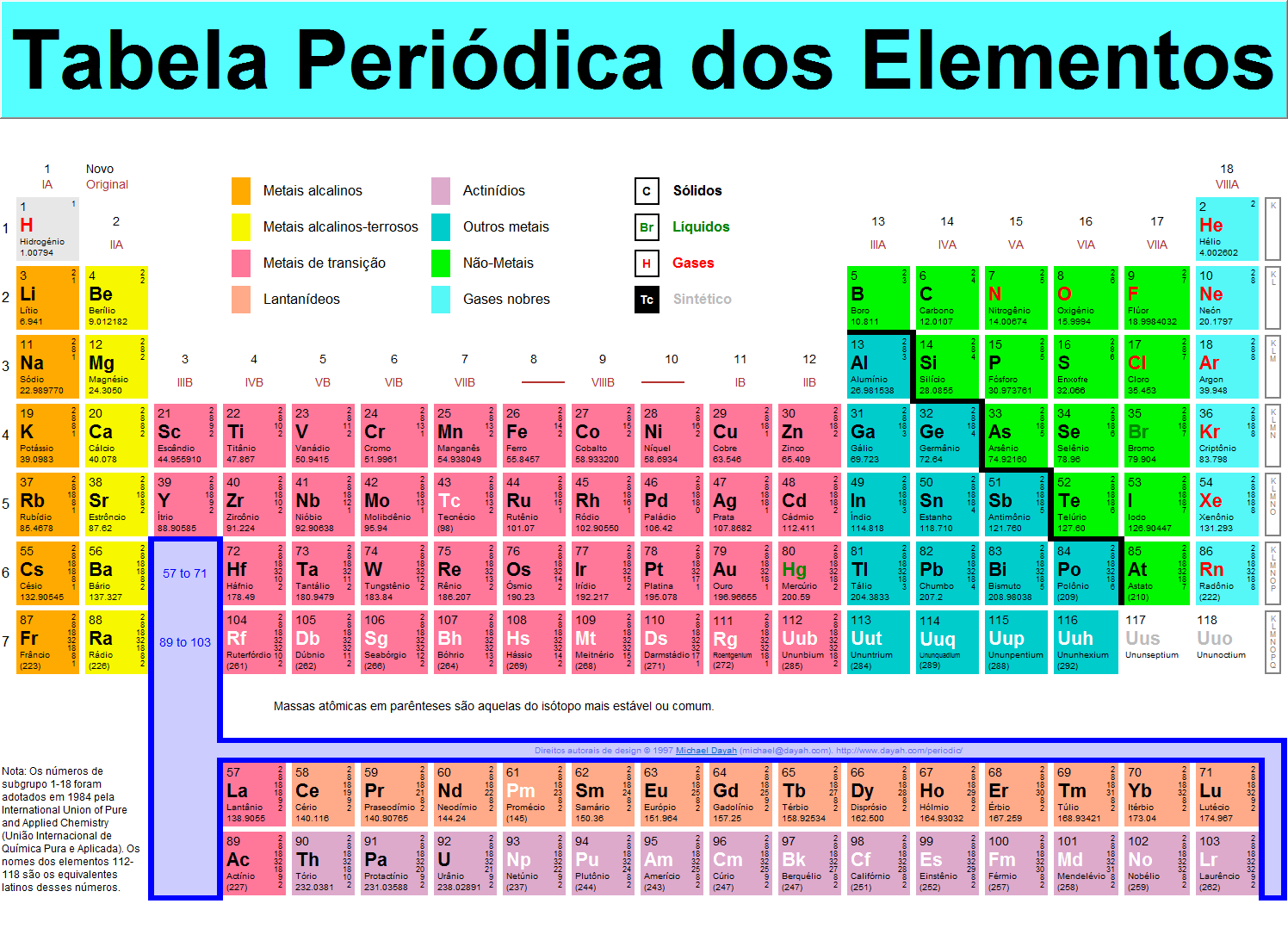A reportagem do Ciência Hoje On-line conversou
com professora recém-premiada pela ‘Science’ por projeto que usa a pesquisa ao
ar livre no ensino de biologia. Revista vem dando espaço para iniciativas que
propõem novas formas de apresentação do conteúdo aos alunos.
Por: Thiago Camelo
Publicado em 05/04/2012 |
Atualizado em 05/04/2012
A bióloga Nitya Jacob
na 'Arabia Mountain': proposta de estudar com os alunos o ecossistema local
ganhou prêmio da 'Science'. (foto: Kay Hinton)
O
último editorial da
Science perguntou: por que
tantos alunos abandonam a graduação em cursos de ciências exatas ou naturais nos
primeiros dois anos de estudo?
As aulas introdutórias, que deveriam prender o aluno e
abrir as possibilidades do universo científico, são pouco inspiradoras.
Uma das respostas a que a revista chegou foi: as aulas introdutórias, que
deveriam prender o aluno e abrir as possibilidades do universo científico, são
pouco inspiradoras.
A mesma revista, com o espírito de incentivar novas
práticas de introdução científica,
passou a
premiar iniciativas que propõem novas formas de se apresentar a
matéria para os alunos recém-ingressos. O laureado publica no periódico, um dos
mais prestigiosos do mundo, um artigo em que explica seu projeto.
O Alô, Professor conversou com a última educadora
premiada pela revista – a bióloga indiana
Nitya
Jacob, professora do curso de Biologia da Faculdade de Oxford, na
Geórgia, Estados Unidos.
Jacob
desenvolveu com estudantes dos dois primeiros anos de
curso um estudo completo do comportamento microbiológico da
Arabia Mountain, uma cadeia de rochas com
grande diversidade vegetal na própria Geórgia. Por que a montanha? Porque o
lugar fica relativamente próximo à faculdade, e porque, para Jacob, ali poderia
ser um laboratório a céu aberto.
Mais do que isso, segundo a professora, “pouco se sabe sobre a ecologia
microbiana nesse ecossistema”. Seria a oportunidade de, no final do curso, ter
em mãos um material original.
Curiosamente, a iniciativa anterior premiada pela
Science – serão 15 educadores no decorrer do ano – também privilegiou a
pesquisa ao ar livre: uma
empreitada de professores da Universidade Estadual de
Michigan, nos Estados Unidos, que propôs um curso introdutório para estudar, no
próprio
campus da instituição, a mudança das folhas das árvores no
decorrer das estações do ano.
Ambas as iniciativas, tanto a de Jacob quanto a dos educadores de Michigan,
também se preocupam em preservar todo o processo de pesquisa científica, com
incursões ao laboratório, busca dos alunos pelo melhor método, discussão do
projeto e, por fim, produção de um artigo.
A seguir, leia a entrevista com a bióloga Nitya
Jacob.
Ciência Hoje On-line: Como surgiu a ideia do
projeto?
Nitya Jacob: Estava muito interessada na incorporação de
técnicas de pesquisa em aulas introdutórias. Li sobre um projeto realizado na
Universidade do Arizona do Norte sobre a exploração de microrganismos em
ambientes extremos. A ideia de usar a
Arabia Mountain veio em função do
conhecimento que tenho desse ecossistema. Também me inspirei no trabalho da
minha colega, a [bióloga e professora]
Eloise Carter, cuja pesquisa envolveu as plantas e os
ecossistema da
Arabia Moutain.
A Science vem premiando projetos que usam a natureza como
laboratório a céu aberto. Qual seria a importância de ‘olhar ao redor’ e
entender a potencialidade do ambiente próximo ao centro de
ensino?
Acho fundamental para a educação levar os alunos para fora
da sala. Os estudantes são pouco conscientes do ambiente que os cerca, e talvez
não olhem para fora a não ser que seja apontada uma direção. Se quisermos que a
natureza seja preservada para as futuras gerações, é importante fazer com que os
estudantes tomem consciência dela o quanto antes.
Minha área de especialização é a biologia molecular, que envolve
principalmente trabalhos dentro do laboratório. Portanto, ser capaz de combinar
isso com uma experiência de campo no meio da natureza é uma ferramenta
valiosa.
-
- O ecossistema da ‘Arabia Mountain’,
com toda a sua diversidade vegetal, foi o ‘laboratório’ escolhido pela bióloga
para que os alunos tivessem o primeiro contato com a ‘ciência de verdade’.
(foto: Science/AAAS)
E é realmente benéfico para os alunos ter contato com métodos de
pesquisa científica logo nos primeiros anos da faculdade?
Acho que
isso é absolutamente fundamental para os alunos. É como a ciência é feita! Se o
aluno não tem a chance de experimentar isso logo, ele não estará em contato com
uma visão mais completa do mundo científico. Mesmo com recursos limitados, é
possível expor os estudantes à pesquisa de diversas maneiras.
Como?
Uma maneira é envolver os alunos em leituras
científicas para demonstrar como os ‘fatos’ do livro são, na verdade,
originários de pesquisas. Até mesmo pequenos projetos em laboratório são
importantes para que os alunos percebam que, quando os cientistas começam um
projeto de pesquisa, o resultado do projeto é imprevisível.
Digo isso porque, muitas vezes, os alunos acreditam que sempre há uma
resposta correta – e a ciência não é sobre haver uma resposta certa. A ciência é
sobre descobrir o desconhecido. Os alunos devem começar a experimentar isso logo
no início de sua trajetória universitária.
No artigo, você fala da importância de o aluno lidar com a
“frustração de não alcançar o resultado desejado”.
A frustração de
que falo não tem a ver com fracasso. De fato os alunos tendem a associar a
frustração ao fracasso. Estou tentando ajudá-los a ver que eles não falharam.
Eles também precisam saber que não chegar a uma resposta correta pode levar a
uma nova descoberta. A pesquisa científica não é um mar de rosas. Os obstáculos
são elementos esperados.
Você acharia possível introduzir uma experiência análoga com alunos
do ensino médio?Descobri que expor estudantes a esse tipo de
pensamento independente e de investigação não é um trabalho que deve ser feito
uma única vez. Os melhores resultados vêm lentamente. Estar exposto várias vezes
a esse tipo de pesquisa é o que realmente ajuda a informação a se
consolidar.
Então a resposta é sim, acho que experiências semelhantes podem ser aplicadas
nas escolas, expondo os alunos aos poucos ao método científico e consolidando o
conhecimento.
Qual foi o impacto que o prêmio da Science teve na sua
carreira e no projeto?
Por ser uma revista internacional e com
grande impacto, os professores de todo o mundo têm a chance de implementar o
exercício em seus cursos. A divulgação serve de inspiração, inclusive, para
esses professores chegarem a novas ideias e, quem sabe, modificarem o
exercício.
No caso do meu trabalho, sinto que vai ajudar no convencimento de que os
alunos do primeiro e segundo anos são capazes de realizar pesquisas. O que eles
precisam é da paciência do professor, precisam ser orientados de forma eficaz. O
prêmio também ajuda na criação de uma cultura de fazer perguntas não apenas
dentro do laboratório, mas também fora dele.
Thiago
Camelo
Ciência Hoje On-line
 Este trabalho descreve a história dos agrotóxicos e sua relação com os conteúdos de química, bem como as consequências de sua utilização no meio ambiente e para a saúde do trabalhador. Ao longo dos tempos, o homem sempre procurou maneiras de combater as pragas que afetam suas plantações, utilizando desde os rituais religiosos até o julgamento de pragas em tribunais eclesiásticos. Produtos químicos utilizados na agricultura para controlar pragas e doenças de plantas, os agrotóxicos são consequentemente os responsáveis pelo aumento da produção agrícola e pelo crescimento da população. Entretanto, podem causar doenças e intoxicações se forem utilizados sem os cuidados necessários, como os equipamentos de proteção individual. Por isso, a conscientização dos estudantes acerca das implicações da utilização dos agrotóxicos e sua relação com os conteúdos de química estudados no ensino médio tornam-se importantes para a formação de cidadãos conscientes e participantes na sociedade.
Este trabalho descreve a história dos agrotóxicos e sua relação com os conteúdos de química, bem como as consequências de sua utilização no meio ambiente e para a saúde do trabalhador. Ao longo dos tempos, o homem sempre procurou maneiras de combater as pragas que afetam suas plantações, utilizando desde os rituais religiosos até o julgamento de pragas em tribunais eclesiásticos. Produtos químicos utilizados na agricultura para controlar pragas e doenças de plantas, os agrotóxicos são consequentemente os responsáveis pelo aumento da produção agrícola e pelo crescimento da população. Entretanto, podem causar doenças e intoxicações se forem utilizados sem os cuidados necessários, como os equipamentos de proteção individual. Por isso, a conscientização dos estudantes acerca das implicações da utilização dos agrotóxicos e sua relação com os conteúdos de química estudados no ensino médio tornam-se importantes para a formação de cidadãos conscientes e participantes na sociedade.